Quando pensamos na Amazônia, imediatamente surge à mente a imagem da floresta grandiosa, serpenteada por rios quase oceânicos. Tão grandiosa quanto a natureza é o ícone que fazemos dela, como um símbolo de contornos mitológicos. Ao longo de séculos construímos essa imagem da Amazônia que foi se distanciando gradativamente da realidade que passou a caracterizar a região de fato. A floresta está lá, é verdade, e demanda cuidados, sem dúvida. Mas a Amazônia não é um parque temático inviolável da biodiversidade: tem gente lá. Quando vemos a imagem de uma favela, por exemplo, rapidamente nosso raciocínio aponta para as grandes metrópoles do Sudeste ou até, quem sabe, do Nordeste. E aí reside um grande equívoco do senso comum sobre a Amazônia que remonta ao mito secular que guardamos dela. Responsável por mais da metade do território brasileiro, a região abriga uma população de aproximadamente 25 milhões de pessoas — dos quais 18 milhões estão em área urbana — e cresceu mais de dez vezes nos últimos 40 anos. Fica no território amazônico, no Pará, a terceira maior população habitante de favelas do Brasil, só atrás de Rio de Janeiro e São Paulo.
Outro fato que desconstrói o mito: dos 773 municípios da Amazônia Legal, somente 35 possuem Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (o IDH-M) igual ou acima da média nacional. Estão lá os maiores índices de vulnerabilidade social do país e alguns dos piores índices de oferta de infraestrutura e serviços públicos. Por exemplo, na região Norte apenas 7,8% dos municípios possui coleta de esgoto, enquanto no Sudeste este número é 92,9%.
Essa condição, criada e historicamente consolidada nas políticas públicas nacionais, retira dos territórios amazônicos o componente mais primordial e originário de qualquer ciclo de desenvolvimento que são os recursos financeiros disponíveis na economia local, suprimindo a capacidade de criação e distribuição de riqueza e de investimento público e privado.
Além disso, cabe destacar a ausência histórica de consideração dos povos amazônidas nos processos de formulação da visão de desenvolvimento da Amazônia. Essas discussões têm ocorrido, em sua maioria, no âmbito federal e, não raramente, contam até com a participação de organizações internacionais, alijando as comunidades, e até entes políticos locais, da discussão definidora da “causa”, ignorando que serão eles os protagonistas do “efeito”.
A ideia de desenvolvimento pressupõe a geração de valor público, manifestado na prática no acesso a infraestrutura e serviços, trabalho e renda, cultura e lazer, participação no processo democrático, uso equilibrado de recursos, inclusão social em todos os seus aspectos, entre outros.
Para que os ciclos de valor público ocorram, é necessário haver condições estruturais – aquelas que são a matéria prima a ser utilizada e manuseada (recursos financeiros e leis) — e condições conjunturais – aquelas que se configuram como ferramentas, técnicas por meio das quais transforma-se a matéria prima em produto final (formas de planejamento, governança e participação social, gestão de informação, execução de projetos, entre outros).
Para as cidades amazônicas, podemos afirmar que a ideia de desenvolvimento é como uma virtude abstrata, uma vez que lhes falta a matéria prima e o ferramental para torná-la real.
Outro fato que desconstrói o mito: dos 773 municípios da Amazônia Legal, somente 35 possuem Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (o IDH-M) igual ou acima da média nacional. Estão lá os maiores índices de vulnerabilidade social do país e alguns dos piores índices de oferta de infraestrutura e serviços públicos. Por exemplo, na região Norte apenas 7,8% dos municípios possui coleta de esgoto, enquanto no Sudeste este número é 92,9%.
Essa condição, criada e historicamente consolidada nas políticas públicas nacionais, retira dos territórios amazônicos o componente mais primordial e originário de qualquer ciclo de desenvolvimento que são os recursos financeiros disponíveis na economia local, suprimindo a capacidade de criação e distribuição de riqueza e de investimento público e privado.
Além disso, cabe destacar a ausência histórica de consideração dos povos amazônidas nos processos de formulação da visão de desenvolvimento da Amazônia. Essas discussões têm ocorrido, em sua maioria, no âmbito federal e, não raramente, contam até com a participação de organizações internacionais, alijando as comunidades, e até entes políticos locais, da discussão definidora da “causa”, ignorando que serão eles os protagonistas do “efeito”.
A ideia de desenvolvimento pressupõe a geração de valor público, manifestado na prática no acesso a infraestrutura e serviços, trabalho e renda, cultura e lazer, participação no processo democrático, uso equilibrado de recursos, inclusão social em todos os seus aspectos, entre outros.
Para que os ciclos de valor público ocorram, é necessário haver condições estruturais – aquelas que são a matéria prima a ser utilizada e manuseada (recursos financeiros e leis) — e condições conjunturais – aquelas que se configuram como ferramentas, técnicas por meio das quais transforma-se a matéria prima em produto final (formas de planejamento, governança e participação social, gestão de informação, execução de projetos, entre outros).
Para as cidades amazônicas, podemos afirmar que a ideia de desenvolvimento é como uma virtude abstrata, uma vez que lhes falta a matéria prima e o ferramental para torná-la real.


0 Respostas
Mais perguntas de Geografia
Top Semanal
Top Perguntas
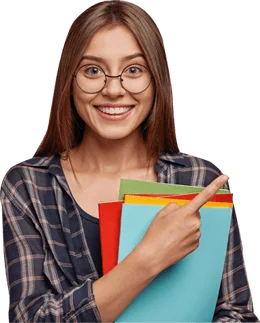


Você tem alguma dúvida?
Faça sua pergunta e receba a resposta de outros estudantes.